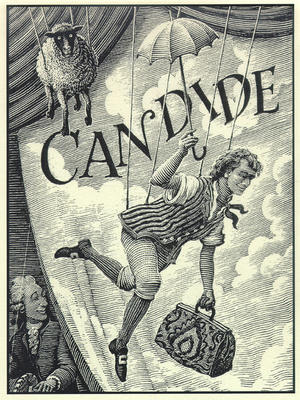. Miguel Poiares Maduro, ex-advogado geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e professor da Universidade de Yale diz que universidades nacionais continuam muito conservadoras e pouco dadas a valorizar o mérito.
Miguel Poiares Maduro, ex-advogado geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e professor da Universidade de Yale diz que universidades nacionais continuam muito conservadoras e pouco dadas a valorizar o mérito.
Apesar do "investimento" dos últimos anos, as universidades portuguesas continuam muito fechadas em si mesmas, eternizando a cultura da "substituição do professor pelo seu assistente" , "conservadoras" no ensino e pouco dadas a procurar e valorizar o "mérito" no seu corpo docente. Quem o afirma é Miguel Poiares Maduro, o primeiro professor português na Universidade de Yale, nos Estados Unidos.
Em conversa com o DN, Poiares Maduro - que terminou recentemente um mandato de seis anos como advogado geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (ver texto ao lado) confessou "alguma desilusão" com a falta de evolução das universidades portuguesas nos anos que passou no Luxemburgo.
"Portugal teve nos últimos anos um investimento em termos de recursos financeiros no ensino superior que, do meu ponto de vista, não teve os frutos que deveria ter", considerou, defendendo que, se no plano da "investigação", houve melhorias assinaláveis, no que diz respeito à qualidade da oferta educativa das universidades nada se alterou.
"Há até de certa forma quase duas culturas em Portugal", explicou. "Uma cultura científica nos projectos de investigação, muito mais europeia, muito mais internacional, muito mais meritocrática, muito mais avançada . E outra, nas universidades, de um ensino que é muito mais conservador e tradicional e que não evoluiu", lamentou.
Para Poiares Maduro, as reformas do sector nos últimos anos - do regime jurídico das instituições ao novo sistema de graus e diplomas de Bolonha - não produziram ainda efeitos ao nível da qualidade da oferta educativa.
E mesmo as parcerias internacionais no ensino e investigação promovidas pelo Governo - por exemplo com o MIT e as universidades de Austin e Carnegie Melon - foram projectos "com alguns benefícios" mas não soluções.
Segundo defendeu, as medidas do Governo deveriam ser orientadas, isso sim, para se criarem "mecanismos de incentivos correctos para se alterar a cultura" das instituições.
Entre eles propôs a obrigatoriedade de as instituições "recrutarem a maioria do seu corpo docente fora da universidade, para se fazer uma selecção com base no mérito", e de se criarem instrumentos que permitam "flexibilizar" as remunerações dos professores, "premiando os que têm paralelamente uma carreira melhor em forma de ensino e investigação".
O jurista defende que, actualmente as instituições capazes de se afirmar internacionalmente "são ilhas".
Uma categoria onde incluiu a Universidade Católica de Lisboa - na qual vai também orientar agora um projecto de pós-graduação internacional da área do Direito.
DN, 26.10.2008
.
segunda-feira, outubro 26, 2009
Português de Yale critica estagnação do superior
Hora da publicação: 14:57 2 comentários
Etiquetas: citações-coincidências, educação-jovens-professores, Fernando Penim Redondo, Miguel Poiares Maduro
segunda-feira, dezembro 26, 2005
Mais uma crónica de Natal…

Mais uma crónica de Natal…
por Miguel Poiares Maduro
Hoje é dia de natal, o que exige uma crónica de Natal. Mas como escrever mais uma crónica de Natal sem repetir as banalidades do Natal? É possível dizer algo mais sobre o Natal? Dúvido. E o que é que se pode dizer contra o Natal? Nada. Tudo o que escrever será consensual. O Natal é uma ditadura da bondade. Alegremente aceite por todos e que ninguém gosta de contestar.
Claro que há os cínicos de Natal. Os Grinches que, como o personagem de cinema, se divertem a desmistificar o Natal, gritando contra o consumismo e a falsa solidariedade. Para eles, o Natal foi capturado pelo consumo e apenas serve para fazer negócio e lavar as consciências. Seria uma espécie de eleições em que todos somos candidatos. Passamos uma semana a fazer promessas e o resto do ano a encontrar justificações para não cumprir as mesmas (as circunstâncias mudaram...) Não é, no entanto, que se critique o Natal, o que se critica é aquilo em que o Natal se tornou: o nosso Natal já não seria fiel ao espírito de Natal.
Mas nenhum destes discursos de Natal permite fugir ao terror do Natal: a banalização. No fundo, o fabuloso do Natal é também o seu problema. A comunhão de certos valores está associada à banalização das palavras que os exprimem: paz, fraternidade, amor, solidariedade, são palavras inflacionadas nesta altura do ano. Todos as usam mas com isso também as fazem perder valor. Mas a banalização estende-se aos gestos: os sms enviados em cadeia por programas de computador ou os cartões assinados mecanicamente e distribuídos pelas listas de contactos das empresas. E também às imagens e à música (a música é a mesma em qualquer loja ou centro comercial: seja ela apresentada na versão electrónica mais comum, na versão, "nos gostamos das criancinhas", Coro de Santo Amaro de Oeiras ou na versão, "nos somos intelectuais", à la Diana Krall). Hoje, com a ajuda das lojas chinesas, até os presentes se banalizaram. Todos merecem presentes, mesmo aqueles que mal conhecemos. Por um lado, isso até promove um dos valores do Natal: olharmos para além de nós e dos nossos. Mas ao dar-mos a todos também deixamos de distinguir uns dos outros e com isso perde-se a mensagem particular que queríamos dar a alguém: a de que é ou são especiais para nós.
Muitos temem que o espírito de Natal não sobreviva à banalização do Natal. O paradoxo é que a banalização do Natal também serve para manter o espírito de Natal. Até a explosão consumista promove a solidariedade e a fraternidade no Natal. Muitos economistas realçam o impacto positivo do aumento do consumo nesta altura do ano (aproximadamente um quinto do consumo anual concentra-se no Natal), aumentando o investimento e fazendo crescer o emprego. Eis um belo presente de Natal para a economia portuguesa. É verdade, no entanto que se trata de um crescimento largamente artificial e puramente sazonal. Sobretudo, um grupo de economistas dedicou-se a estudar o desperdício de eficiência inerente aos presentes de Natal. A tese é simples: na maior parte dos casos as pessoas não estariam dispostas a pagar para ter o presente que lhes é oferecido ao preço pelo qual foi comprado, logo há uma perda de eficiência pois esse dinheiro poderia ser utilizado com mais utilidade para as pessoas noutras coisas (pagamos mais do que o valor que aquele bem realmente tem). Se seguíssemos à letra esta tese o melhor seria passarmos todos a oferecer cheques de presente… Só que estes economistas esquecem o valor sentimental dos presentes. É óbvio que nunca receberam presentes meus! (tenho a certeza que há inúmeras pessoas que estariam dispostas a pagar mais do que eu paguei pelos presentes que ofereço…).
Seja como for, e por muito anti-intuitivo que pareça, consumir é sempre um instrumento de solidariedade e ainda mais se for para distribuir pelos outros. O que nos irrita é a percepção que ao usarmos e abusarmos do Natal desvalorizamos a sua importância: aquilo que se vulgariza deixa de parecer tão especial. É como um cliché: se algo se tornou um cliché é devido a ser uma verdade reconhecida e partilhada por todos mas repeti-lo parece deixar de ser importante e tornar-se apenas ridículo. O fantástico do Natal reside precisamente nesta capacidade de resistir aos clichés e à sua banalização. Por vezes, há uma linha muito ténue entre o ridículo e o sublime. Porque é que o kitch deixa de ser kitch e passa a ser arte quando falamos do barroco ou do design contemporâneo do Philippe Starck? Ou, ao contrário, como é que o retrato da Mona Lisa passa de belo a ridículo quando compramos uma cópia perfeita em vez do original? E o que distingue as mesmas palavras empregues de forma diferente num soneto de amor de Shakespeare ou numa canção do Tony Carreira? Só tenho uma resposta: a capacidade de suspender a realidade e os nossos preconceitos, deixando-nos ser dominados pela arte e não fazer um juízo sobre ela. No Natal não deixamos de discordar, ser diferentes ou ter gostos opostos. O que acontece é que no Natal todos aceitamos suspender a nossa realidade por um momento e com ela os nossos preconceitos e juízos críticos. Aceitamos e promovemos o inverosímil. Partilhamos uma mesma emoção que transforma em sublime o que de outra forma seria ridículo. Neste contexto, e enquanto recordarmos isto, o banal não deixa de ser especial: feliz natal!
Mais uma crónica de Natal…
por Miguel Poiares Maduro
segunda-feira, dezembro 05, 2005
A vida em Google
A vida em Google
por Miguel Poiares Maduro
E se de repente alguém o googalizasse? Quem encontraria? Quem seria você para o mundo. Googalizar está na voga e significa procurar no Google (o mais conhecido motor de busca na Internet) informação sobre alguém ou alguma coisa. Antes falava-se com os tios, os primos e os amigos para descobrir se uma certa pessoa era de confiança. Hoje confia-se no Google. O nosso mundo pessoal está mais próximo do tamanho do mundo e o Google é a forma de conhecer esse mundo.
A vida está hoje na Internet. A nossa profissão revelada no site da empresa, um artigo num jornal, a participação numa conferência, alguém que fala de nós num blogue ou site de discussão, o nome que escrevemos num abaixo-assinado. Não interessa se mudámos de ideia ou de profissão, se o que dizem de nós é falso ou verdadeiro ou até se se trata de um homónimo nosso. Com o Google, isso é o que nós somos para o mundo. Talvez antes isto do que ser "Google-excluído", a nova forma de morte. Uma amiga dizia-me, recentemente, que temia tentar contactar os pais de uma amiga a quem tinha perdido o rasto porque, não conseguindo encontrar uma única referência no Google, a presumia morta.
O Google é também o local onde hoje se encontra tudo namorada, onde passar a lua-de-mel, como arranjar amante ou descobrir o amante dela e onde comprar Prozac ou Viagra (dependendo da forma como decidir lidar com o anterior). É, igualmente, a medida do que é importante. O número de sites diz-nos da importância de um tema e o número de pesquisas do quanto algo ou alguém são procurados.
Mas como define o Google o que é importante sobre nós e sobre o mundo? Ao contrário das formas tradicionais de informação, como a comunicação social, a política ou a publicidade, o Google não edita a informação. Por outras palavras, não faz juízos valorativos para seleccionar o que é mais ou menos importante. Neste sentido, o Google procura evitar a manipulação e apresenta-se como mais democrático e seguramente pós-moderno. Tal como a Wikipedia (uma enciclopédia online, cujas entradas podem ser alteradas por qualquer de nós), o Google deixa a selecção da informação a um processo livre e quase anárquico. No entanto, como os sites são frequentemente milhões e o Google não os pode mostrar todos ao mesmo tempo, adoptou dois critérios "neutrais" para hierarquizar os resultados das pesquisas.
O primeiro critério é a autodefinição. Para o Google, um site é simplesmente o que diz que é. Os autores dos sites identificam-nos com palavras-chave que permitem ao Google relacioná-los mais facilmente com certos temas e buscas com eles relacionadas. Isto permite que eu crie um site sobre mim e o indexe a palavras como belo, inteligente e sedutor. Alguém que faça uma busca sobre estes temas terá assim mais probabilidade de encontrar o meu site... Infelizmente, por vezes, as pessoas são conduzidas para sites que, ao contrário do exemplo anterior (!), podem não corresponder ao desejado para o Google, Deus é uma banda musical belga que dará um concerto na Aula Magna em Dezembro...
O segundo critério é puramente quantitativo a importância de um site é medida pelo número de "visitas" (hits) que ele recebe. Quanto mais consultado for um site, maior a prioridade que ele obtém nos resultados do Google. Isto criou uma indústria dedicada exclusivamente a consultas artificiais para aumentar a visibilidade de um site.
Estes critérios do Google preferem o extraordinário à normalidade, não distinguem muito o antigo do novo e são "despersonalizados" (não são determinados pelas nossas preferências mas sim pelas preferências maioritárias entre os outros). Em consequência, produzem resultados interessantes e por vezes divertidos. Se fizerem uma busca da palavra Portugal, o Google envia-os para o portal do Sapo. Não sei se é uma metáfora do estado do país (somos um sapo que espera a princesa encantada?) ou da importância da PT na economia nacional.
Mais divertido ainda é conhecer o mundo através do Google, com base nos números de sites referentes a certos temas e nas pesquisas que são feitas. De acordo com o Google, actualmente, procura-se mais o divórcio (3 milhões de sites) que o casamento (2 milhões) e os filhos gostam mais das mães (7 milhões) que dos pais (2,5 milhões). O Benfica pode ter 6 milhões de adeptos, mas para o Google é bem menos importante que o Sporting e o Porto (este último é o claro vencedor, com referên- cias em mais de 600 mil sites). E, claro, há 14 milhões de sites com a palavra amor e pouco mais de 8 milhões com a palavra sexo. Só que, quando o critério muda para o número de pesquisas, se fazem mais relacionadas com o sexo. Conclusão as pessoas falam de amor mas procuram é o sexo. Para o Google há também mais de um milhão de homens apaixonados, mas apenas pouco mais de 500 mil mulheres: devem existir muitos homens infelizes... ou então são os homens que, afinal, são mais abertos na expressão das suas emoções!
Para minha enorme desilusão, as mulheres mais "pesquisadas" no Google são Paris Hilton e Britney Spears. Como não as acho belas, só pode ser pela sua inteligência, que desconheço. Entre os homens, a minha desilusão foi ainda maior para além de não me encontrar entre os eleitos, descobri que as mulheres têm preferência por homens com nomes como "50 cent" e "Bob Esponja". Mas as estatísticas das pesquisas mais comuns permitem também caracterizar certos países: no Reino Unido estão obcecados com dietas e em encontrar amigos e namorados ou namoradas perdidos (será que perdem os amigos pela mesma razão por que têm de fazer dieta?); os franceses gostam é de viajar e de top models (não consegui apurar se viajam com as top models); já o passatempo dos russos parece ser agora a decoração de interiores, enquanto os chineses parecem preferir ficar em casa a ver televisão.
Eis aquilo a que o mundo atribui mais importância de acordo com o Google. Existirá mundo para além do Google? Vale a pena pesquisar.
A vida em Google
por Miguel Poiares Maduro
Hora da publicação: 09:11 1 comentários
Etiquetas: ciência-tecnologias, crónicas, Miguel Poiares Maduro, prospectiva-utopia
segunda-feira, novembro 14, 2005
Políticas acidentais
Políticas acidentais
por Miguel Poiares Maduro
Bismark disse que para continuarmos a respeitar as salsichas e as leis não devemos ver como são feitas. Nunca gostei muito de salsichas mas quanto às leis é difícil fazer dieta… Elas estão em todo o lado. Existe um sério problema de obesidade legislativa. Quando não temos solução para um problema legislamos. As leis parecem apresentar desejos em vez de soluções. O homem sonha e logo legisla, arriscando-se a transformar as leis em meras intenções. Multiplicamos as leis sem chegarmos a soluções. Mas de onde vem, afinal, este existencialismo legislativo? Ele tem origem numa crise existencial da própria política.

À política caberia tradicionalmente a decisão sobre certos riscos sociais, a distribuição dos seus custos e benefícios e a arbitragem entre os diferentes interesses a eles associados. Hoje em dia, a política tem dificuldades em desempenhar estas funções. A verdadeira política tirou férias: a ênfase é toda colocada na arte de fazer política, esquecendo as políticas que deviam ser a sua razão de ser. A estética da política (não confundir com a estética dos políticos) interessa mais que as próprias políticas. Neste contexto, não é de estranhar que as políticas pareçam, por vezes, um resultado acidental da política.
Isto é visível, desde logo, na forma como se reduzem certas questões políticas a escolhas técnicas. Depois do tanto que ouvi de tantos lados, confesso que já não sei o que pensar do futuro aeroporto de Lisboa, do TGV ou de como reciclar os nossos resíduos tóxicos. E, no entanto, a forma como estas questões nos são apresentadas indiciaria uma decisão fácil. O discurso sobre estas e outras políticas está dominado pela invocação da técnica e da ciência. Ambos os lados parecem estudantes aplicados, esgrimindo estudos técnicos, planos de impacto, projectos de viabilidade e outras expressões enjoativas. Por vezes, não sei se assisto a um debate político ou a um exame de engenharia. Parece que não se trata de fazer opções políticas mas de determinar o que é verdade ou mentira. As políticas são apresentadas como o resultado de uma decisão técnica, mas parece que a técnica está mais confundida que a política.
Só que se o problema fosse meramente técnico a opção política seria simples: confiar nos melhores técnicos. Mas o problema é outro: é que já não conseguimos distinguir entre o que pertence à técnica e o que pertence à política. Não sabemos se foi a ciência que tomou conta da política ou se é a política que se esconde atrás da ciência. A ciência é fundamental para esclarecer e iluminar a escolha política mas não se pode é reduzir a política a uma questão de ciência. Por ex.: a ciência pode e deve ajudar-nos a determinar o risco existente num certo método de reciclagem de resíduos tóxicos mas essa não é a questão política. As perguntas, a resolver politicamente, são outras: é esse risco socialmente aceitável face às alternativas existentes e aos riscos que também comportam? Como deve ser esse risco distribuído na sociedade (quem o deve comportar e como deve ser compensado por isso)? A política tem de partir dos factos mas não pode ser reduzida a um juízo de facto (o que é verdade ou mentira). A política, como a vida, é antes um processo de escolha entre diferentes alternativas imperfeitas.
Falta também visão periférica às políticas. Em parte isto deve-se a uma "ghetização" do discurso político, organizado em torno de grupos que prosseguem objectivos específicos. Cada um destes grupos identifica o interesse geral com o interesse que entendem ser prioritário proteger. Num contexto deste tipo, o verdadeiro interesse geral devia resultar do equilíbrio entre estes diferentes interesses parcelares. À política deveria caber promover um debate entre todos e arbitrar entre eles. Mas não é bem assim. Em primeiro lugar, devido à crescente complexidade social e, logo, das decisões políticas, a segregação do discurso político tem-se reflectido numa segregação das próprias políticas. Criam-se diferentes instituições (comités, institutos, agências) a que se atribuem certos objectivos específicos. Naturalmente, estas instituições centram a sua acção na maximização desses objectivos. O mesmo sucede, crescentemente, com diferentes áreas de governo: moldados por diferentes objectivos e com conhecimentos compartimentados, é natural que, por ex., o Ministério do ambiente tenha uma cultura do interesse público bem diferente da do Ministério da economia. Quando a política já não consegue coordenar e arbitrar estes diferentes poderes, as políticas entram num ciclo de constante alternância consoante aqueles que são chamados a controlá-las. Em vez das políticas representarem uma escolha entre diferentes alternativas imperfeitas à luz dos vários interesses em causa elas são, alternativamente, dominadas por vários interesses parcelares. Por vezes, isto tem como consequência uma enorme instabilidade legislativa e política. Outras vezes, um desses interesses consegue estabilizar o seu domínio numa certa área e o problema é o oposto: um congelamento da democracia, em que a transformação de certos interesses predominantes em direitos adquiridos impede a reforma de políticas que, mesmo que inicialmente o tenham sido, há muito deixaram de ser eficientes e justas.
No fundo, subjacente à dificuldade de assumir a política como escolha encontra-se um enorme mito: a presunção de que os recursos do Estado não são escassos. Muitas vezes, as reivindicações que se ouvem em Portugal parecem entender que prosseguir um certa política é apenas uma questão de vontade e não exige uma opção entre diferentes utilizações possíveis dos mesmos recursos limitados. Fala-se muito de justiça distributiva mas ignoram-se os efeitos redistributivos da maior parte das políticas. Fornecer o acesso universal a um certo serviço (a educação por exemplo) pode parecer incontestavelmente desejável. Mas o que temos verdadeiramente de decidir é se preferível utilizar certos recursos do Estado para garantir um acesso gratuito a todos independentemente do seu estatuto económico ou se existe uma alternativa melhor para utilizar e distribuir esses recursos.
Uma política perfeita é um pouco como a felicidade, toda a gente diz que a viu e que anda por aí mas ninguém sabe onde mora. É bom ter a ambição de buscar a perfeição mas não de viver obcecado com ela. Na política como no resto, o que conta são as escolhas que se fazem e não aquelas que gostaríamos de poder fazer. As políticas são acidentais quando as escolhemos sem ter consciência dos limites da nossa escolha.
Políticas acidentais
por Miguel Poiares Maduro
quinta-feira, outubro 20, 2005
Vivemos sempre duas vezes ?
Estas últimas semanas temo-nos repetido tanto: as mesmas personagens, as mesmas histórias, os mesmos dramas. E porque nos repetimos? Descobrimos que queremos viver o mesmo outra vez, imaginamos de forma diferente a vida que vivemos ou queremos viver o mesmo mas de forma diferente? Às vezes há momentos na vida em que parece que nos falta a inspiração para algo diferente. Portugal, por ex., vive um desses momentos. Sentimo-nos prisioneiros da memória em vez de nos inspirarmos nela.
Nos últimos anos da sua vida o poeta irlandês Yeats sentiu-se sem inspiração. Foi na memória que a reencontrou. No poema Circus Animal´s Desertion começa por notar como a falta de inspiração o leva a confrontar-se com a sua vida:
Procurei um tema e procurei em vão
Procurei diariamente, seis semanas ou algo assim
Talvez, agora, sendo apenas um homem desgastado
Tenha de estar satisfeito com o meu coração,
Embora Inverno e Verão até à velhice se tenham iniciado
Os meus animais de circo estavam todos em exposição
(…) Que posso fazer senão enumerar velhos temas
Só que Yeats compõe a partir destes velhos temas um retrato original da sua vida. Não sei é se Yeats está a revisitar a sua vida ou a basear-se nela para construir uma nova. É por isso que o regresso de que fala no fim também aparece como um novo princípio:
Aquelas imagens de mestre porque completas
Cresceram numa mente pura, mas de onde vieram?
Um monte de lixo, o varrer das valetas
Velhas chaleiras, velhas garrafas, e as latas que se partiram,
Velhas pedras, velhos ossos, velhos trapos, a velha
Que mantém a contabilidade
Agora que a minha escada se foi
Tenho de me deitar onde todas as escadas principiam
No ferro velho do coração
Yeats não se repetiu. Inspirou-se na memória. Numa altura em que assistimos a tantas repetições talvez seja bom lembrar que a memória não tem que ser sinal de repetição mas de um novo conhecimento. A memória é o que transporta o passado até ao presente. Ao fazê-lo, no entanto, deixa espaço à interpretação. Esta é moldada pelo tempo e a dúvida é saber se o tempo apura a memória ou, ao contrário, a engana.
Parece que o nosso cérebro organiza dois tipos diferentes de memória: a memória de curto prazo (ligada ao aspectos sensoriais: som, olhar, cheiro, tacto) e uma memória de longo prazo. Qual estará mais próxima da verdade? Será que conhecemos verdadeiramente alguém ou alguma coisa quando estamos na sua presença ou quando damos tempo à nossa memória para seleccionar o que essa pessoa ou facto têm realmente de importante. Será que a distância temporal nos torna mais objectivos ou, simplesmente, mais selectivos?
Tendemos a ver a memória como o registo da nossa vida. Mas a memória não é um processo de gravação mas sim de edição. É que a memória é finita e, logo, temos de seleccionar o que merece fazer parte dessa memória. Editamos o nosso passado para construir a nossa memória das coisas e das pessoas. Por vezes, exacerbamos o que elas tiveram de negativo, outras vezes exaltamos o que tiveram de positivo. Só que não sabemos se devemos acreditar na nossa nova história ou na história que nos lembra a memória da nossa memória. Há até quem mude de memória consoante muda de história. É nossa, no entanto, a responsabilidade do que cabe na nossa memória. É por isso que não se podem justificar certas falhas de memória com os limites da memória: "- Esqueceste-te do nosso aniversário!" "Desculpa querida mas já não tinha memória disponível…".
A verdade é que uma boa memória não é uma grande memória (que se lembra de muita coisa) mas sim uma memória crítica. Mais relevante que a informação que nos transmite a memória é a curiosidade que ela pode promover. Nada tem mais memória ou informação que um computador mas não diremos que um computador é culto ou faz bom uso da memória. O conhecimento não se esgota na memória. Ao contrário, a memória deve ser um incentivo ao conhecimento. Mais do que como uma base de dados devemos conceber a memória como um instrumento de juízo crítico e fonte de inspiração. A razão não nos permite controlar a memória mas permite-nos discutir com ela. Emoção e razão de novo juntas… Como diz Kaufman (o argumentista de um filme chave sobre a memória: The Eternal Sunshine of the Spotless Mind): "A história é sobre emoções e sobre a memória e ambas estão no cérebro. Se a centrasse no coração seria apenas sobre bombear sangue".
É por isso que não concebo memória mais importante que a memória emocional. Neste caso, o que conta não é tanto se a memória reproduz uma verdade histórica mas sim a inspiração que pode resultar dessa memória. É assim com a memória da mulher que se ama: não é visual mas emocional. A emoção que me transmite a sua memória revela-me a sua beleza mas não me permite descrevê-la. Será esta memória verdadeira? Pouco importa, o que é importante é que ela mereça essa memória. Há memórias assim, em que o que nos fica gravado é a emoção que algo nos provocou. Só que a memória também nos provoca novas emoções: a tristeza é a memória dos maus momentos; a melancolia é a forma como a memória se recorda dos momentos felizes.
Hoje, no entanto, as pessoas parecem menos preocupadas com a sua memória do que com a memória com que os outros ficam delas. Os diários e as autobiografias têm, frequentemente, pouco de memória e muito de tentativa de implantação de uma certa memória nos outros. E o que será pior: ser uma má memória ou não fazer parte da sua memória?
Também se diz que há pessoas sem memória: é o caso dos chefes que nos despedem ou das mulheres que nos deixam! Claro que a razão, frequentemente, é outra: é que elas não partilham das nossas memórias…
Hoje em dia, até a memória parece ser a prazo. Recentemente, ouvi na rádio que a qualidades das novas formas de impressão das fotografias digitais é muito superior a anterior mas que apenas durarão 100 anos. Aparentemente isto é comum a outros meios de gravação actuais. Já pensaram bem: daqui a 100 anos não existirá memória de nós. É verdade que há muitas coisas que se passam hoje das quais, provavelmente, preferíamos que não restasse memória, mas o que me preocupa não é tanto preservar a nossa memória mas assegurar o futuro dos outros: é que sem memória podem bem vir a repetir os nossos erros. Um povo que não faz bom uso da memória fica preso à sua História. Pensando bem, temo que hoje já seja comum repetirmo-nos sem memória. Portugal parece estar sempre a repetir o mesmo filme com actores diferentes. Falamos tanto da nossa memória colectiva mas parece que não aprendemos nada com ela. O problema da memória colectiva é que se já é difícil aprender com a nossa memória (quantas vezes repetimos os mesmos erros) ainda é mais difícil aprender com a memória dos outros (de pouco serve conhecermos os seus erros). Daí que sejamos herdeiros de uma História mas não tenhamos memória.
Será que alguém se lembra de quando perdemos a memória?
Vivemos sempre duas vezes?
por Miguel Poiares Maduro
quinta-feira, setembro 15, 2005
Mundos Perfeitos

Mundos Perfeitos
por Miguel Poiares Maduro
Imagine ter acesso apenas ao que lhe interessa. Acordar pela manhã e ler na Internet as notícias seleccionadas através de um filtro de conteúdos garantidos por uma entidade da sua confiança. Escolher a sua programação televisiva através da classificação de conteúdos feita por essa mesma entidade. Sair de casa e poder deixar os seus filhos numa escola com programas e currículos que reflectem totalmente as sua preferências morais e/ou políticas. Poder investir toda a sua acção política num objectivo social particular (proteger o ambiente ou garantir o direito à sesta por ex.) e viver numa comunidade de pessoas que partilhem essa mesma concepção do mundo. Um mundo perfeito? À primeira vista, nunca estivemos tão próximos de poder maximizar a nossa liberdade e autonomia individuais, construindo os nossos pequenos mundos perfeitos. Mas estes mundos aparentemente perfeitos não fazem um mundo perfeito.
Os custos de ouvir aquilo que nos é desagradável e estar sujeitos a ideias que não são as nossas, são a contrapartida de um espaço público: um espaço em que também podemos fazer ouvir as nossas ideias, tentar convencer os outros delas e, por vezes, nesse processo, ser também convencido por novas ideias (seguindo a tradição socrática de que a verdade é produto da nossa vontade autónoma mas apenas se constantemente questionada e desafiada por concepções alternativas). Acontece que as novas tecnologias, novas formas de organização social e a nossa crescente arrogância intelectual estão a unir-se para, paradoxalmente, promover, numa comunidade cada vez mais global e inter-dependente, comunidades de valores crescentemente insuladas e fechadas em si mesmas.
Infelizmente, esta tendência parece ser reforçada pela crescente irracionalidade do debate público. No mundo que estamos a construir, a arrogância intelectual só tem paralelo no relativismo moral. Uns estão tão seguros da sua verdade que apenas querem saber como a podem proteger e, se possível, impor aos outros. Outros, estão tão convencidos da ausência de qualquer verdade absoluta que apenas se preocupam em saber como fazer predominar a sua verdade relativa. Em ambos os casos, seja porque a verdade é óbvia ou porque não existe de todo, debater e argumentar deixa de fazer sentido. Isto reflecte-se quer na organização do espaço público (que é crescentemente limitado) quer na argumentação que nele prevalece. O que interessa é gritar mais alto ou fazer apelo a uma fé maior (religiosa ou, frequentemente, de outro tipo). Os argumentos da moda são assim os argumentos de “fé”. Estes não se destinam a convencer o outro mas a revelar a verdade. Só que a fé (num Deus, numa ideia ou num partido), apenas pode justificar uma verdade pessoal fundada numa relação individual com algo que racionalmente não podemos provar perante os outros. Por este motivo, não pode servir de base a um processo de argumentação perante aqueles que não partilham dessa fé. Para um argumento ser aceitável no espaço público ele tem de ter a ambição de convencer o outro e, para isso, tem de assentar em bases racionais que possam ser partilhadas por esse outro. Os nossos argumentos podem até não vir a convencer ninguém (suspeito que isso é frequentemente o caso com os meus argumentos...) mas, para serem válidos, têm de ambicionar comunicar com os argumentos e posições dos outros.
A mesma destruição do espaço público e da possibilidade de argumentar e discutir no seu seio resulta do relativismo absoluto que, no extremo oposto, ao aceitar todas as verdades não admite outro critério que não a força para resolver os conflitos entre elas. Não vale a pena argumentar, se não podemos entender os outros nem por eles ser entendidos.
Esta crescente balcanização das ideias no espaço público tem como consequência uma alteração substancial nesse espaço público e na nossa própria auto-determinação individual. Afecta a forma como definimos as nossas preferências individuais e como as tentamos compatibilizar e prosseguir através de decisões sociais que sejam aceitáveis (ainda que não partilhadas) por todos. A ambição do debate racional de ideias é substituída por uma competição entre visões alternativas do mundo que desistiram de nos procurar convencer para se apresentarem antes como verdades reveladas. Exprime-se uma opinião para tomar partido e não para desenvolver uma ideia. As ideias não interessam, o que interessa é quantos são e quantos somos. Já não há ideias no céu e cá na terra muito menos...
Mundos Perfeitos
por Miguel Poiares Maduro
quarta-feira, setembro 07, 2005
A depressão é a esperança da revolução
A depressão é a esperança da revolução
por Miguel Poiares Maduro
Nos tempos da revolução havia um clássico graffiti ou slogan de parede que dizia que a revolução era a esperança dos oprimidos. Há dias, ao passear por Lisboa, dei de caras com uma nova versão: "a revolução é a esperança dos deprimidos". Nesta mudança de uma palavra está grande parte da mudança que se processou em Portugal. Hoje, os portugueses já não se sentem oprimidos mas sim deprimidos! Talvez seja por isso que a política já não promete soluções mas sim optimismo. É a política prozac: como é difícil curar as causas da doença combate-se a sensação de mal-estar que ela causa.
Muito do que está escrito (frequentemente mal escrito…) nas nossas paredes reflecte muito do que mudou no nosso país desde os tempos da revolução. Os graffitis são um espelho do que se alterou na concepção do mundo dos portugueses, na sua esfera pública e privada.
Em primeiro lugar, a grande maioria das pinturas de parede deixaram de ser políticas para passarem a ser pessoais. Esta é a primeira forma de pessoalização do espaço público. Só que até a natureza das mensagens pessoais gravadas nos espaços públicos mudou: o clássico "Maria amo-te" é cada vez mais substituído por referências explícitas ao fazer amor com Maria…A fazer fé no que se lê nas paredes de Lisboa os portugueses estão hoje muito mais confortáveis com a exposição pública da sua vida sexual: aquilo que antes se lia nas portas de uma casa de banho pública hoje é escrito nas paredes de uma qualquer casa de Lisboa… O amor (talvez porque é muito mais íntimo que o sexo) quase desapareceu dos muros de Lisboa (esperemos, aliás, que não tenha desaparecido de todo!). Do que os portugueses parecem gostar de falar em público é de sexo, o seu e o dos outros. Deprimidos mas entretidos, dir-se-ia.
Mesmo quando as mensagens políticas subsistem elas abandonaram a utopia revolucionária (como dizia outro slogan, não há revolução de gravata…) e o conflito de classes (trabalhadores do mundo, investi, podia ser o novo lema) para passarem a exprimir uma insatisfação existencial (o aborrecimento ou a depressão são os sentimentos mais frequentes na expressão política nas nossas paredes). Também aqui há uma certa pessoalização. Já não são grandes visões do mundo (que destino Portugal?) e de certas ideologias que comandam a relação dos portugueses com a política mas sim uma apreciação centrada no impacto que a política tem em cada um de nós. Esta pessoalização da política, com o consequente abandono do idealismo (um juízo assente no eu e já não num destino comum ideal) é, no entanto e ao contrário do que por vezes se afirma, positiva. É que é através deste interesse individual que a participação e a responsabilidade política melhor funcionam. O que não podemos é confundir esta crescente visão pessoal da política com a negação de um destino colectivo que implica que nem sempre os nossos interesses pessoais prevaleçam.
Hoje, os portugueses, felizmente, já não se sentem oprimidos mas também já não acreditam em promessas de "mundos perfeitos". E ainda bem que as novas gerações já não crêem em utopias. As utopias políticas apenas conduziram a pesadelos. Para parafrasear um outro slogan famoso é a imaginação que deve aceder ao poder e não a utopia. A imaginação, ao partir da realidade, respeita o mundo. A utopia, ao pretender subverter a realidade, instrumentaliza o mundo e os que o habitam ao serviço de uma qualquer ideologia.
A liberdade e a democracia banalizaram-se e, com isso, tomámos simplesmente consciência de que não existem soluções perfeitas ou milagrosas. No entanto, podemos ter conquistado liberdade e autonomia mas ainda não aprendemos a viver com o risco e a insegurança que isso comporta. Portugal é hoje uma sociedade livre cujo povo ainda não se sente totalmente confortável a viver em liberdade. A autoridade oprime mas dá segurança e estabilidade. Daí, o instinto tão forte em Portugal para o proteccionismo e o imobilismo. Quando em Portugal se evoca o passado não é no bem estar que se pensa mas sim na segurança. Não tanto a segurança física mas sim a segurança de conhecer e ter garantida uma certa forma de vida, mesmo que não seja uma grande vida. A depressão de que sofrem os portugueses tem origem na dificuldade em lidar com o risco inerente ao exercício da liberdade e manifesta-se hoje, de forma particularmente forte, devido aos desafios actuais à nossa tradicional forma de vida.
Mas esta depressão traz, no meio do pessimismo generalizado, sinais positivos. Os portugueses cada vez acreditam menos em slogans maniqueístas e cada vez se mostram mais abertos a debater o nosso modelo de sociedade. O verdadeiro dilema português está, como já aqui escrevi uma vez, na dificuldade em optar entre uma sociedade de fidelidades pessoais que protege as posições adquiridas de muitos portugueses mas limita a capacidade de renovação e mobilidade social ou uma sociedade assente no mérito que premeia os melhores e promove a inovação e dinamismo social mas comporta maiores riscos e insegurança nas expectativas da vida dos portugueses. Por um lado, só existe verdadeira liberdade quando sabemos que podemos ser premiados pelas iniciativas que tomamos e as competências que demonstramos. Por outro lado, a concorrência e o risco que essa liberdade traz assusta-nos. O que é também importante notar é que uma sociedade mais proteccionista e menos meritocrática não produz necessariamente mais igualdade. Portugal é hoje um bom exemplo: somos o país com maior desigualdade na distribuição do rendimento dos 25 Estados da União Europeia.
É este questionar colectivo que é o aspecto mais positivo da nossa proclamada depressão. Hoje, a discussão política não é apenas sobre eles (os políticos) para ser também sobre nós (os portugueses). Mas é importante que a culpa que se atribuía sempre aos políticos (esses seres diabólicos de outros planetas que ocupavam o corpo de inocentes cidadãos portugueses…) não seja simplesmente transferida para os portugueses (cujo carácter nos destinaria ao atraso e subdesenvolvimento). Ao contrário do que dizem algumas vozes ilustres: o problema não são os portugueses (e, com isso, eles querem dizer todos os portugueses menos eles), o problema é o nosso modelo de sociedade. Compete aos portugueses decidir que modelo querem. Também aqui, no entanto, é importante não esperar por um qualquer Dom Sebastião. Somos nós e não eles quem tem que decidir alguma coisa.
Para já, a depressão sentou-nos no sofá num processo positivo de psicanálise colectiva. E agora que falamos abertamente dos nossos traumas colectivos, temos duas opções: ou passamos de deprimidos a abatidos ou agimos sobre eles. Eu tenho algum optimismo. Acho que esta depressão é sinal de que os portugueses estão finalmente a descobrir a verdadeira política: desconfiam de messianismos e de grandes utopias, mobilizam-se para lá dos partidos (sem os substituir), esquecem os slogans e concentram-se nos problemas. Falta "apenas" criar confiança no sistema político, de forma a que este possa traduzir essa vontade de reforma em soluções que, mesmo que contestadas por alguns, apareçam como legítimas aos olhos de todos. Como se poderia escrever nas paredes: será a depressão o instrumento da revolução?
por Miguel Poiares Maduro
Miguel.Maduro@curia.eu.int
quarta-feira, agosto 17, 2005
Prisioneiros do Futuro
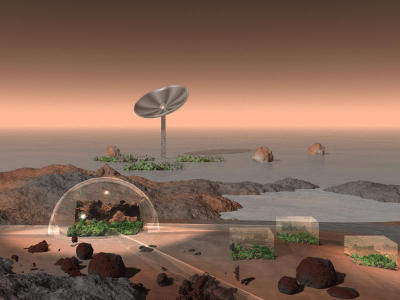
Prisioneiros do Futuro
por Miguel Poiares Maduro
Há dias foi anunciado que Portugal apenas atingirá o nível económico médio europeu dentro de 110 anos.
Não sei qual é a base para uma tal previsão mas anunciada assim parece ridícula. Em 110 anos, o mundo e Portugal podem sofrer as maiores transformações pelo que sabemos, até podemos ser invadidos por extraterrestres que percebam de economia ou vir a ter uma geração clonada a partir de uma qualquer célula do António Dâmaso! As circunstâncias que podem afectar o crescimento económico da Europa e de Portugal são tantas que uma previsão deste tipo e a tal distância não faz sentido (é provável até que o estudo assente na presunção de que "tudo se manterá como está" e, nessa medida, a sua conclusão é apenas uma análise crítica do nosso actual modelo de crescimento económico).
Sempre me impressionou esta importância que atribuímos à previsão do futuro. Queremos antecipar o nosso destino. Só que conhecer o que o destino nos reserva pressupõe que o nosso destino já está reservado. E é aqui que está o problema querer conhecer o futuro é negar que somos nós que o determinamos. É deixar-se conduzir em vez de tentar conduzir um pouco. Como é que se pode prever a nossa evolução económica para os próximos 110 anos?
Só presumindo que somos prisioneiros de nós próprios e que não podemos mudar. Isto é a negação da nossa própria humanidade e da liberdade que lhe é inerente. Mesmo para quem não é católico, o episódio do pecado original é belíssimo a esse respeito. Porque teria Deus permitido a Adão e Eva que pecassem e porque teriam eles vontade de pecar estando no paraíso? Só encontro uma explicação o acto de rebeldia permitido por Deus é o reconhecimento da liberdade humana. Mas ao libertarem-se, Adão e Eva deixam de estar protegidos no paraíso e passam a ser responsáveis pelo seu destino. São eles e não Deus que o determina. Deus pode julgar mas não escolhe.
Sendo assim, é absurda a importância que na nossa sociedade adquiriu a noção de destino e toda uma indústria de previsões do futuro. Não existindo um futuro pre-determinado, acreditar no destino é acreditar naqueles que nos lêem o destino (escrito nos astros, nas cartas ou até nas borras de café).
Ao acreditarmos nessas previsões ficamos prisioneiros de quem as faz. Tornamo-nos os seus executantes. Nunca demonstraremos que são falsas porque nós mesmos garantimos, através da nossa obediência, a sua concretização.
Admito, por exemplo, que a colocação dos astros quando nascemos até possa determinar alguns tratos da nossa personalidade (há tantas coisas que podem influenciar o que somos, desde os genes que temos à cara da enfermeira que vimos quando nascemos…). Mas não consigo compreender como se passa da influência dos astros na nossa personalidade à previsão de acontecimentos específicos.
Será que de uma concentração de "Balanças" se deve esperar uma grave perturbação pública ou que o facto de o Sporting ter 11 Capricórnios a jogar garante a vitória no campeonato nacional? Por que motivo hão-de os astros permitir prever certos acontecimentos? Não será que a nossa ansiedade em saber o que o futuro nos reserva é antes um escape para o que sentimos ser a nossa impotência em lidar com ele?
A nossa descrença num futuro aberto resulta da nossa dificuldade em saber o que fazer com esse futuro. Não é que nos falte vontade de ter a liberdade de determinar o futuro. Falta-nos é a vontade de escolher o que essa liberdade implica. É que o insucesso resultante da não decisão pode ser atribuído ao destino ao que nos aconteceu ou estava reservado. O insucesso resultante de uma nossa decisão é antes visto como sendo da nossa responsabilidade: "foste tu que fizeste isso a ti próprio!". Daqui resulta uma enorme tendência para imobilidade perante a vida e o destino.
Quem nada faz e é infeliz tem a pena de todos era esse o seu destino. Quem tenta mudar o seu destino é um aventureiro. Socialmente, somos induzidos à inércia. Daí que até a mudança, para ocorrer, tenha por vezes de ser promovida pela antecipação de um destino diferente. Essa é também uma razão para o recurso aos astros e a outras "ordens do futuro": procurar uma responsabilização alternativa ("os astros são quem mais ordena"). Mas essa é apenas uma outra forma de perder a liberdade.
Em Portugal, o futuro é mais irreversível do que a História. Perante a História adoptamos muitas mais liberdades. Paradoxalmente, achamo-nos donos da História e escravos do destino. Mudamos a História de acordo com a nossa necessidade de justificar ou legitimar diferentes opiniões ou sentimentos. É que a História, ao contrário do futuro, não é vista como sendo da nossa responsabilidade e até serve para nos demitir de responsabilidades ("foi sempre assim").
Frequentemente, a História muda não porque muda o nosso conhecimento dela mas sim porque mudam as nossas necessidades quanto ao que concluir com base nela. É curioso como em Portugal uma pessoa teimosa, ortodoxa, fundamentalista, passa, após a morte, a ser definida como coerente, íntegra, corajosa. Não há nada como a morte para mudar a história de uma vida. A História não muda, mas o que muda é a nossa história da História.
Exercemos a nossa liberdade na forma como contamos diferentes Histórias da nossa História. É que a História é uma construção da memória e, como tal, sugestionável. É mais fácil reescrever a História do que escrever o futuro. E quanto mais distante a História mais fácil é de nos apropriarmos dela. Ninguém pode lá voltar para controlar a nossa versão.
Não temos medo de manipular a História mas temos um enorme receio de tomar conta do destino. Exercemos a nossa liberdade para justificar onde estamos mas não para determinar onde vamos. E, no entanto, só há uma coisa certa no nosso destino a morte. E mesmo essa, se puder, evito-a.
por Miguel Poiares Maduro
Miguel.Maduro@curia.eu.int
Hora da publicação: 14:25 1 comentários
Etiquetas: crónicas, Miguel Poiares Maduro, prospectiva-utopia
quarta-feira, julho 27, 2005
Are you talking to me?
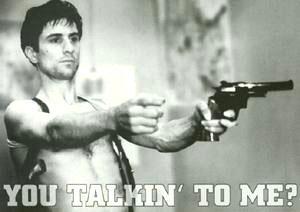
por Miguel Poiares Maduro
Are you talking to me?
Esta frase, proferida pelo personagem de Robert de Niro em Táxi Driver, é um clássico. Recentemente, numa eleição do American Filme Institute, foi considerada uma das frases mais marcantes da história do cinema. E, no entanto, em si mesma, esta frase é de uma banalidade confrangedora: "Estás a falar comigo?" Foi o contexto (a que propósito foram ditas mas também como foram ditas, como foram escutadas, e a quem e por quem foram ditas) que deu um significado particular a estas palavras. No filme de Scorsese as palavras do taxista Travis Bickle são mais uma expressão da sua intolerância crescente para com o mundo que o rodeia. Mais um indício da detonação iminente da sua loucura homicida: uma bomba prestes a explodir que Scorsese sugere de forma magistral através de múltiplos símbolos, como o contador de táxi que recorda o tick-tack de uma bomba.
A linguagem é feita de texto e contexto: o que dizemos não são apenas as palavras que proferimos mas também o seu contexto. Neste sentido, a linguagem do cinema, é apenas uma metáfora dos diferentes significados e usos paradoxais da linguagem na vida: ela tanto aproxima como afasta, tanto procura ser clara como se refugia na ambiguidade, tanto democratiza como é um instrumento de autoridade. Eis alguns exemplos:
What we have here is a failure to communicate (Cool Hand Luke, 1967)
A linguagem é acima de tudo entendida como um instrumento de comunicação. De acordo com a sociologia da evolução a linguagem existe para responder à nossa necessidade de cooperar. Para agirmos colectivamente necessitávamos de prever o que os outros iriam fazer e isso exigia um instrumento de comunicação. A linguagem surgiu assim como um instrumento de cooperação e acção colectiva. Não é por acaso que, no episódio da Torre de Babel do Génesis, a forma que Deus encontra para a impedir as ambições do povo que pretendia construir uma torre até ao céu é acabar com a sua língua comum.
Só que a linguagem é hoje também um instrumento de identidade e diferenciação. A nossa linguagem (que é mais do que apenas a língua) identifica-nos com um povo ou com uma classe social ou cultural. Diferentes línguas não são apenas diferentes sons são também diferentes formas de conceber as mesmas coisas. I love you, te quiero, ich lieb dich, não são apenas diferentes traduções do amor, são diferentes formas do entender (como abandono, conquista ou prazer).
As nossas linguagens são uma forma de reconhecermos "os nossos" e, por vezes, excluirmos os outros. A especialização e codificação da linguagem podem ser positivas: são atalhos de reconhecimento daqueles que nos são mais próximos, uma forma de construção de identidade e de comunicação mais profunda entre aqueles que partilham um certo código linguístico. Mas também podem ter muito de negativo: estratificam a comunicação e impedem um diálogo aberto. Nesta segunda dimensão, a linguagem separa em vez de unir.
Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore (O Feiticeiro de Oz, 1939)
Este exemplo máximo do que os ingleses chamam um understatement (que a linguagem não me permite traduzir…) reflecte um dos paradoxos da linguagem: por vezes é através da ambiguidade que ela nos aproxima. Muitas vezes não se busca a clareza nas palavras que proferimos.
É assim no amor, onde existe essa enorme tensão entre a necessidade de comunicar profundamente mas, também, de preservar algum segredo. Wittegenstein dizia que as palavras disfarçam os pensamentos. Eu acho que, por vezes, elas também disfarçam os sentimentos.
Mas é assim também na nossa vida pública. Muitas vezes, a única forma de concordarmos não é sequer concordarmos em discordarmos. É sim, concordarmos em certas palavras atribuindo-lhes significados diferentes: as mesmas palavras, duas linguagens. Isto não evita o conflito mas pacifica-o e racionaliza-o. Deixa de ser um conflito entre valores diferentes a dirimir através de uma relação de forças para passar a ser um conflito de interpretação a resolver através de mecanismos de decisão racionais aceites por todos.
You can't handle the truth (A Few Good Men, 1992)
Mas linguagem também pode ser utilizada como um instrumento de poder. Uma forma de excluir os outros de certos círculos de conhecimento e decisão ou de se arrogar uma posição de superioridade. É isso que exprime a frase do general representado por Jack Nickolson em A Few Good Men: a incapacidade de alguns para lidar com certa informação justifica que lhes seja negado o acesso a ela. Subjacente, está uma tomada de poder por quem detém um certo código linguístico a cujo conhecimento é atribuída uma autoridade superior.
É a linguagem desprovida de outro sentido que não o impor um certo sentido da vida. Esta arrogância é hoje muito comum, se bem que de forma não claramente assumida, em certas comunidades intelectuais, culturais e científicas. Dizer, por exemplo: "sofri uma metamorfose existencial na minha inteligência crítica aplicada" em vez de… "mudei de ideias". Ou utilizar citações para impor uma pretensa supremacia (não é o meu objectivo aqui…). A linguagem complicada, erudita, difícil, é frequentemente usada como um instrumento de intimidação. É um pouco como aquelas pessoas que confundem o autoritarismo com a autoridade ou que vêem na doçura e gentileza um sinal de fraqueza e insegurança.
As palavras são também poder enquanto forma de reconhecimento social ou político. Ao contrário do que defendeu, a certa altura, Wittgenstein as palavras têm significado mesmo que o significante (a realidade que é suposto elas identificarem) não exista. Elas afectam a nossa percepção da vida mesmo que não existam nela. Num filme dos Monty Python há um personagem masculino que passa o tempo a exigir ter o direito a ter um filho. A certa altura, os seus companheiros, fartos de o ouvir, dizem-lhe: "mas tu és um homem, não podes ter filhos!" Ele responde: "pois, mas quero ter o direito a tê-los na mesma".
É por isso que hoje se batalha tanto pelas palavras. Quanto ao seu género por exemplo. E é verdade que as palavras, por vezes, reflectem mais uma estrutura de poder do que um significado neutral. Hoje, no nosso subconsciente, Deus é uma imagem masculina, mas na versão hebraica da bíblia (bem como noutras religiões) a palavra Deus tende a ser neutral do ponto de vista gramatical. Será que a tradução latina de Deus, atribuindo-lhe um género masculino, reflectiu uma estrutura social de poder ou foi uma pura coincidência? E será que essa atribuição de género masculino se reflectiu noutros aspectos da religião? Trata-se de um debate sobre o poder das palavras.
Oh Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars (Now, Voyager, 1942)
Diferentes expectativas traduzem-se em diferentes compreensões das mesmas palavras. Como escrevia Shakespeare na Tempestade: "disse mais do que queria dizer ou entendeu mais do que eu queria que entendesse." Traduzimos tudo o que ouvimos, no sentido em que o filtramos de acordo com os nossas expectativas ou os nossos desejos. A verdadeira comunicação é aquela em que a linguagem escrita consegue ser também uma linguagem de emoções. Em Lost in Translation, o filme de Sofia Copolla, não sabemos o que Bill Murray segreda ao ouvido de Scarlett Johansson na cena final: terá sido adeus ou até breve? As palavras que lhe atribuímos dependem da nossa leitura de todo o filme. Para mim é uma parábola sobre a dificuldade da linguagem das emoções. Johansson encontra em Murray alguém que consegue traduzir os seus sentimentos. Murray encontra em Johansson alguém que desafia os seus. Terá esse amor futuro? Ambos têm de abdicar de alguma coisa.
Não sei se ao falar de linguagem não utilizei uma linguagem demasiado complicada ou até várias linguagens. Escolha o leitor a sua. Este texto é seu. Por mim, e para citar novamente Wittgensten, "quando já não se tem nada para dizer, deve ficar-se calado!"
por Miguel Poiares Maduro
Miguel.Maduro@curia.eu.int
quinta-feira, julho 07, 2005
Em defesa de "Cândido"
Em defesa de "Cândido"
Miguel Poiares Maduro
miguel.maduro@curia.eu.int
Acredita num final feliz? Eu sempre preferi acreditar. É por isso que sempre simpatizei com o "Cândido", eterno optimista vítima do sarcasmo de Voltaire. Na personagem de Cândido, que permanecia optimista face às maiores desgraças, seguindo a filosofia do seu mestre Pangloss para quem todas as desgraças aconteciam para seu bem, Voltaire criticava o naturalismo optimista da condição humana da filosofia do seu tempo. Esse optimismo cego e atávico corre o risco de nos tornar passivos perante a vida, aceitando todas as adversidades sem as combater e sem tentarmos melhorar a nossa existência. Mas Voltaire enganou-se ao confundir Cândido com Pangloss e optimismo com resignação. O optimismo de Cândido é positivo, o que é negativo é o transformar esse optimismo numa filosofia passiva e acrítica da vida como a de Pangloss.
Na verdade, uma filosofia pessimista conduz ainda mais seguramente a um cepticismo imobilista. Para os pessimistas, mesmo o que a vida nos pode dar de bom é seguramente transformado em mau pela natureza humana. O que identifica um pessimista é o seu cepticismo face à natureza humana. Normalmente, isso esconde-se por detrás de uma concepção cínica do que se passa à sua volta que facilmente se transforma numa visão conspirativa do mundo. Para um pessimista há sempre alguma outra coisa por detrás de um gesto simpático, há sempre uma mentira escondida numa promessa, há sempre uma desilusão a seguir a uma ilusão. Da vida, dos outros e, por vezes, até de si próprios nada podemos esperar de bom. Na dúvida, deve-se presumir o pior! Só que isto conduz a negar qualquer capacidade transformadora na nossa condição humana. Não podemos melhorar-nos nem tentar melhorar os outros. A nossa relação com os outros só pode ser vista como estratégia: a bondade não convence, apenas o engano vence.
Claro que o cinismo inerente a uma filosofia pessimista nos dá uma posição confortável perante a vida. Podemos olhar o mundo de cima para baixo e ser sarcásticos com o "engano" dos outros. Talvez seja por isso que hoje em dia se encontrem muitos mais cínicos que optimistas. É bem mais fácil ter piada sendo cínico do que positivo. Sempre me diverti com a escrita de Vasco Pulido Valente mas sempre me perguntei como se sairia ele se lhe pedissem para escrever algo positivo durante algumas semanas…
Diz-se que a arte reflecte a vida e o pessimismo é hoje dominante na arte e até na filosofia. Será porque realmente o mundo nós dá hoje mais razões para sermos pessimistas? O pessimismo é consequência do mundo ou de nós? Adorno escreveu que depois do Holocausto já ninguém conseguia escrever poemas. Neste caso, a arte apenas exprime o mal do mundo. Mas será que o mundo se tem tornado pior? É que me parece que a arte se tem tornado mais pessimista.
Muitos dramas clássicos exprimiam um optimismo triste: na tragédia final estava sempre ínsita uma possibilidade de redenção humana. É importante não confundir optimismo com comédia e pessimismo com drama. Há tragédias optimistas porque acreditam na natureza humana. Mesmo Romeu e Julieta é uma peça optimista ao demonstrar que o amor é possível entre duas pessoas de famílias que se combatem. Shakespeare exprime algum pessimismo quanto ao contexto social que impede esse amor mas é optimista quanto à natureza humana que o concretiza. No lado oposto, o fantástico filme de S. Kubrick Dr. Strangelove, é uma comédia que exprime um enorme cepticismo quanto à natureza humana.
Da mesma forma, não se deve confundir um optimista com alguém feliz. Ser optimista pode é ser a melhor forma de reagir à infelicidade. Nem se confunda pessimismo ou optimismo com vontade de morrer. Será que um optimista é alguém deprimido que não se suicida ou, pelo contrário, ele não se suicida porque é tão pessimista que acredita que o que o espera na morte ainda é pior?... O pessimismo a que me refiro aqui é uma filosofia da vida assente num profundo cepticismo quanto à natureza humana.
Há uma forte tendência na arte actual para exprimir este enorme cepticismo. O que aconteceu? Onde foram parar todos os optimistas? Há duas explicações possíveis. A primeira, é que o crescente pessimismo é uma reacção aos limites da razão: a crença absoluta na razão do período iluminista revelou-se excessiva enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento humano e pessoal e isso traduziu-se num enorme cepticismo face à natureza humana. O pessimismo antecipou, neste caso, a crítica pós-moderna à razão.
A segunda explicação é mais banal. É simplesmente mais fácil ser pessimista. Havia um tempo em que a arte mediatizava a vida, exaltando-a ou permitindo-nos esquece-la. Os seus tempos eram lentos pois lenta era a forma de viver a vida. Hoje a arte tem de ser mais rápida que a vida para poder ser consumida ao ritmo desta. Neste contexto, o cinismo é a forma mais rápida de fazer arte. É hoje mais fácil matar um personagem do que encontrar um razão para o fazer viver. Não se enganem, eu também não resisto ao gosto da tirada rápida e espontânea, da arte por instinto, do cinismo bem dirigido. Mas custa-me ver a arte reduzida a uma mera expressão do nosso pessimismo existencial.
Na vida, passa-se o mesmo. Ser optimista dá mais trabalho. Significa reconhecer que temos algum controlo sobre a vida e exige que estejamos dispostos a investir na nossa capacidade de nos transformamos e a transformarmos. Mas isso co-responsabiliza-nos. Somos co-autores da vida e não apenas os seus destinatários. É mais fácil ser pessimista e escondermo-nos no cinismo.
Em Portugal, uma sondagem recente indicava que mais de 70% dos portugueses estavam pessimistas. Seria importante clarificar bem o que isto quer dizer. Estar pessimista e ser pessimista são coisas diferentes. Até um optimista pode por vezes estar pessimista… Mas o optimista acha que pode fazer algo para vencer o pessimismo e assume essa responsabilidade. O importante é que os portugueses parem de agir como pessimistas, cínicos e conspirativos perante tudo o que se passa a sua volta, descrentes da natureza dos outros e, dessa forma, desculpando a sua própria natureza também. Um livro recente de Helmut Gaus faz corresponder as fases de desenvolvimento económico com os anseios e receios psicológicos colectivos. De acordo com esta tese, somos, em larga medida, os executores da nossos próprios receios…
Com o pessimismo acontece o mesmo que com as profecias: se as aceitamos, elas realizam-se, pois somos nós mesmos que nos tornamos nos agentes da vontade dos profetas.
Necessitamos de optimistas embora eu esteja algo pessimista quanto à possibilidade de os encontrarmos…
Miguel Poiares Maduro
miguel.maduro@curia.eu.int
sábado, junho 18, 2005
A Felicidade

A Felicidade
Miguel Poiares Maduro
miguel.maduro@curia.eu.int
O que é que se passa no céu? Todos temos uma ideia clara do que nos acontecerá se formos parar ao inferno: mais coisa menos coisa, ardemos lentamente sujeitos às maiores torturas… Mas e no céu? Em que é que as almas ocupam o seu tempo? A jogar às cartas, ouvir música e ver cinema? A conversar com as pessoas que amaram? (e se forem várias, quem fica com quem?). E como se evita o aborrecimento se não há um fim à vista? Se calhar o céu é céu precisamente porque nos deixamos de preocupar com estas questões… mas não deixa de ser algo aterradora a perspectiva de nem no céu conseguirmos identificar a felicidade.
E, no entanto, há quem a pretenda realizar na terra. Um livro recente de Richard Layard, um conhecido economista britânico, procura recolocar o conceito de felicidade no centro das políticas públicas. Layard retoma a tese utilitarista de Bentham que entendia que o principal objectivo de uma sociedade deve ser a maximização da felicidade de todos de forma igual. Por outras palavras, uma política deve ser prosseguida quando ela promove a felicidade do maior número. A dificuldade está em medir a felicidade. Layard socorre-se dos mais recentes estudos sobre a felicidade em disciplinas como a neurologia, psicologia e sociologia para tentar elaborar um critério operativo de felicidade. Desses estudos, podemos retirar algumas conclusões interessantes.
A primeira conclusão é que a felicidade pode ser medida: ela tem correspondência numa determinada actividade neurológica no cérebro.
A segunda conclusão é que a felicidade é profundamente relativa e "invejosa". A nossa felicidade resulta de uma comparação com a situação dos outros (assim, por ex., se todos ficamos mais ricos a nossa felicidade individual não tende a aumentar!).
A terceira conclusão é que a felicidade "educa-se": aquilo que nos traz felicidade muda com o conhecimento, educação e exposição a mundos diferentes. As nossas preferências não são estáticas. É por isso que quanto maior o nosso conhecimento da arte maior a felicidade que ela nos pode transmitir.
A quarta conclusão é que a felicidade aprecia a estabilidade e a companhia: a permanência no mesmo emprego traz, aparentemente, mais felicidade do que as mudanças frequentes para empregos melhores. No mesmo sentido, os estudos realizados indicam que as pessoas casadas são, em média, mais felizes que as solteiras, divorciadas ou separadas (por esta ordem decrescente de felicidade…), incluindo, com alguma surpresa, na sua vida sexual (o que o estudo não diz é se essa felicidade resulta de terem sexo dentro ou fora do casamento…).
A quinta conclusão é que a felicidade vicia e habitua-se facilmente. Assim, algo que nos dá grande felicidade inicial vai diminuindo a felicidade que nos traz à medida que nos habituamos. Só que, paradoxalmente, se voltamos a perder essa coisa, a infelicidade que isso nos traz é muito superior à felicidade que nos trouxe quando não a tínhamos. Isto explica a razão pela qual o dinheiro não traz (sempre…) felicidade. A relação entre nível de vida e felicidade individual é verdadeiramente relevante apenas ao nível do limiar da sobrevivência. A partir daí a correlação entre aumento do rendimento e aumento de felicidade vai diminuindo de forma notável: vamo-nos habituando a gastar o dinheiro que temos! Só que, se perdermos parte desse rendimento, seremos mais infelizes do que antes de o termos… É a velha sabedoria popular de que só damos valor ao que temos quando deixamos de o ter ou, expressa em sentido económico, de que o valor de um bem é mais elevado quanto mais raro for.
Estas conclusões são, nalguns aspectos, algo banais mas podem ter consequências importantes se levadas a sério. Elas colocam um desafio interessante na definição das prioridades das políticas públicas ao questionar a sua subordinação ao objectivo de maximização da riqueza associado ao crescimento económico e ao permitir introduzir outros elementos a que as escolhas públicas devem atender (como a estabilidade). Mas também servem para justificar algumas das políticas públicas actuais: as políticas redistributivas vêm a sua justificação reforçada pelo facto de o mesmo dinheiro trazer mais felicidade a quem menos tem; os impostos e outras medidas podem ser necessários, como refere Layard no seu livro, para evitar que as pessoas trabalhem demais (uma vez que após certo nível elas deixam de retirar mais felicidade da remuneração acrescida que recebem).
Há, no entanto, um problema delicado na utilização de um critério de felicidade para orientar as políticas públicas. É que a felicidade é, acima de tudo função das preferências individuais de cada um. A felicidade é menos um produto daquilo que nos acontece do que da forma como concebemos o que nos acontece. É mais autonomamente determinada (dependente da nossa concepção do sentido da vida) do que heteronomamente condicionada (dependente das circunstâncias que afectam o sentido da nossa vida).
É, neste ponto, que se coloca a questão filosófica da definição da felicidade. Desde logo, a felicidade é profundamente individual. Nesse caso, não devemos procurar fazer as pessoas felizes (seria a ditadura da bondade!) mas, como diz a Declaração de Independência Norte-Americana, garantir-lhes o direito à procura da felicidade.
E há várias formas de procurar a felicidade. Há os que procuram uma espécie de "felicidade moral", o que corresponde à ideia aristotélica de uma vida vivida com um certo sentido (que pode ser, como defendia São Tomás de Aquino, o conhecimento de Deus). A felicidade intelectual mas não sensorial. A felicidade é assim distinguida do prazer o que, confesso, não me faz muito feliz! Curiosamente, um outro utilitarista (Stuart Mill) aceita a ideia de prazer associada à felicidade: apenas não é o prazer que algo nos traz que determina a felicidade mas, antes, o prazer que isso pode trazer aos outros… (uma forma de felicidade que procuro incutir nos outros!). Em sentido bem diferente, há também a felicidade epicurista ou hedonista em que o nosso prazer é a nossa felicidade. Só que, o prazer dissociado de um sentido da vida reduz-se a uma mera satisfação ou contentamento. É um analgésico da felicidade: alivia mas não cura.
Hoje em dia, a procura da felicidade parece dividida em dois mundos bem opostos. Os que defendem uma felicidade modesta, segundo a qual apenas devemos retirar felicidade das coisas que podemos ter! (não admira que Santo Agostinho, o seu autor original, também defendesse que o único verdadeiro amor é aquele que apenas depende da pessoa que nos ama). Ou os que defendem uma felicidade pós-moderna, feita de "boas experiências" e da procura incessante do prazer, liberto de outro sentido que não a sensação momentânea que nos causa.
Enquanto no primeiro caso, a felicidade amarra-nos ao que temos e somos, no segundo ela transforma liberdade em instabilidade e insegurança permanentes. No entanto, se há coisa que os estudos recentes nos mostram é que a felicidade necessita de estabilidade. O prazer é maior quanto maior for a sua relação a um sentido da vida (a atribuição de sentido à nossa vida, o que é diferente do sentido da vida em geral). É este último que conduz o prazer à nossa felicidade.
É em relação com o sentido da nossa vida que podemos encontrar a felicidade. A felicidade é, em larga medida, uma competência que podemos melhorar. Não estamos predispostos a ser infelizes mas também não existem receitas para atingir a felicidade. Acima de tudo e tal como dizia Thomas Paine, é necessário para a felicidade do homem que ele seja intelectualmente fiel a si próprio. E a si o que é que a/o faz verdadeiramente feliz?
quarta-feira, maio 25, 2005
O monstro e a democracia

"Monstro", Constança Lucas
O monstro e a democracia
por Miguel Poiares Maduro, DN 25/5/2005
O défice e o discurso do défice
O "monstro" está aí e vamos ter de fazer sacrifícios. O "vamos" quer normalmente significar "vão", pois os sacrifícios sugeridos são os dos outros. Para uns, há que reduzir as despesas no sector público (em particular dos funcionários públicos) argumentando que é aí que está o peso principal no défice e que aumentar a receita indo buscar dinheiro ao sector privado apenas agravará a situação económica, reduzindo o consumo e o investimento e aumentando o desemprego. Para outros, há que aumentar os impostos, combater a fraude fiscal e os denominados privilégios económicos, pois apenas assim se distribuirão os sacrifícios de forma equitativa.
Aparentemente aborda-se o mesmo problema através de dois modelos diferentes de sociedade. Para os primeiros, o Estado é o problema e o sector privado a solução. Para os segundos, o Estado soluciona os problemas criados pelo sector privado.
Na realidade, nenhuma destas soluções é legítima ou eficaz por si só. Parece antes tratar-se de um combate pelo controlo do "discurso do défice". As propostas de solução do défice orçamental são, em larga medida, resultado de diferentes comunidades de interesses. O "vamos" legitima as propostas ao esconder os interesses de um sector na linguagem de um programa de princípios. Neste sentido, a discussão sobre "o monstro" tem a mesma origem do monstro na nossa democracia e nas suas assimetrias.
O problema orçamental é a expressão financeira de um problema democrático. O défice orçamental é, na verdade, resultado de um défice democrático. O défice é "democraticamente" decidido por uma geração e pago por outra geração. Muitos daqueles que acarretarão com os custos não têm ainda direito de voto. Neste sentido, as decisões orçamentais, ao vincularem cidadãos que não participam nelas, sofrem de um défice democrático.
Claro que as gerações futuras também se podem endividar para pagar as dívidas das gerações anteriores mas a sua margem de actuação vai sendo progressivamente diminuída. A liberdade ou autonomia democrática de cada geração vai sendo assim reduzida. É por isso que a disciplina imposta pelas regras relativas ao défice orçamental é só apenas aparentemente uma limitação do processo democrático. Na verdade, ela visa salvaguardar a democracia das gerações futuras.
Assimetrias democráticas
É por isso, também, que o défice é tão difícil de combater. A democracia perfeita seria aquela em que todos os interesses afectados estariam representados, mas isso nem sempre é possível. A democracia sofre de quatro tipos de assimetria democrática que impedem a sua expressão plena.
A primeira é uma assimetria temporal (é o tipo da que está inerente aos problemas orçamentais mas também, por ex., a certas consequências ecológicas futuras) uma certa comunidade de participantes toma decisões com impacto num momento futuro em que os afectados serão outros.
A segunda é uma assimetria informacional nem todos os participantes têm acesso ao mesmo nível de informação e, desta forma, nem todos podem participar da mesma maneira e ter consciência dos custos ou fazer uso dos benefícios que o processo democrático decide (pense-se em como o conhecimento do regime fiscal ou dos financiamentos públicos é mais benéfico a quem tem mais informação).
A terceira é uma assimetria espacial é possível, por exemplo, que uma comunidade de cidadãos tome decisões que afectam sobretudo a uma pequena comunidade local (é o caso da decisão de colocar uma certa central ou indústria poluidora, que beneficia o país no seu todo, numa pequena comunidade local em quem se concentram todos os riscos da mesma actividade).
A quarta é uma assimetria racional. O processo político é massificado e isso exige simplificação. O paradoxo é que as questões submetidas ao processo político são crescentemente mais amplas, técnicas e complexas.
A simplificação destas questões permite, frequentemente, a sua manipulação aumentando a componente irracional e populista do processo democrático (levando a que se afirme, por exemplo, que a democracia pode legitimar a violação das normas do Estado de direito, pretendendo uma espécie de legitimação política de certas formas de corrupção).
Estas assimetrias explicam o défice. O falhanço de uma determinada comunidade política na gestão dos custos e benefícios das suas opções políticas é resultado quer da sua tentativa em concentrar os benefícios em si e exportar ou adiar os custos para os outros (os de fora ou as gerações futuras) quer da sua incapacidade para internalizar e racionalizar toda a informação necessária a uma decisão racional e verdadeiramente representativa de todos os interesses afectados.
Como é óbvio, isto não nos deve levar a desistir da democracia, deve antes levar-nos a duas coisas. Em primeiro lugar, a compreender a importância dos mecanismos de disciplina impostos pelo direito (e em particular pela Constituição) ao sistema democrático. Eles não são limites à democracia, mas sim garantes de uma verdadeira democracia e da democracia dos outros (as gerações futuras e os grupos e indivíduos não representados).
Em segundo lugar, a organizar a nossa sociedade e o nosso Estado de forma a reduzir as suas assimetrias democráticas e a maximizar a legitimidade das suas decisões.
As soluções: eficácia e legitimidade
É importante recordarmo-nos disto ao discutirmos as melhores soluções para enfrentar o problema orçamental e a austeridade que nos espera.
Em primeiro lugar, não basta falar das soluções mais eficazes. A eficácia tem de ser suportada pela legitimidade. Pode ser que a única forma realmente eficaz de combater o défice (pelo menos a curto prazo) passe por medidas duras a nível da função pública mas para que esta medida seja legítima, ela tem de vir acompanhada de medidas de austeridade para todos. Estas últimas até podem não ser necessárias para reduzir o défice, mas são-no para conferir legitimidade às primeiras.
Em segundo lugar, temos de reduzir os factores que distorcem o funcionamento da nossa democracia e promovem a sua captura por alguns grupos particulares.
Há três coisas que me parecem primordiais a este respeito.
Primeiro, simplificar, simplificar, simplificar quanto mais simples as regras, mais acessíveis a todos, menos manipuláveis por alguns e mais perceptíveis os seus efeitos, logo, melhor e mais verdadeiro o juízo democrático sobre elas (os benefícios fiscais, por exemplo, não podem ser decididos apenas na base da sua eventual justificação económica, mas têm de atender às possibilidades de evasão fiscal que se multiplicam e à sua fácil manipulação pelos grupos mais poderosos e informados).
Segundo, substituir a lógica da fidelidade (ao partido, aos amigos, ao grupo) pela lógica do mérito tanto no sistema público como no sector privado (a governação das nossas empresas sofre frequentemente dos mesmo vícios que a governação do nosso Estado; a inexistência de uma verdadeira e eficaz concorrência e as distorções decorrentes dos problemas no nosso Estado de direito não criam os incentivos apropriados à adopção do risco e da boa gestão económica como factores de sucesso no mercado).
Terceiro, racionalizar o nosso discurso público criar mecanismos de informação credível que possam ser partilhados por todos aqueles que debatem no espaço público e promover mecanismos de análise de políticas públicas independentes e legitimados em termos técnicos.
Nada disto evitará o conflito político, nem isso deve ser pretendido. Também nenhum destes aspectos ira eliminar o défice orçamental. O ponto é outro é que qualquer solução do défice para ser legítima e socialmente aceite tem de ser acompanhada de medidas destinadas a eliminar as assimetrias democráticas que nos trouxeram até aqui e contaminam qualquer proposta de solução da actual crise económica.
Hora da publicação: 12:32 0 comentários
Etiquetas: crónicas, economia-crises-ciclos, Miguel Poiares Maduro
quarta-feira, maio 04, 2005
O mal

O Mal
por Miguel Poiares Maduro
Fui ver A Queda e gostei. Trata-se do muito discutido filme sobre os últimos dias de Hitler no seu bunker em Berlim. Alguns criticam uma hipotética humanização de Hitler no filme. Não estou de acordo. O filme demonstra que Hitler é humano mas isso é bem diferente de o humanizar. Não nos suscita compaixão por ele. Apenas nos demonstra que Hitler é também "um de nós". E isso é o que o filme tem de perturbador e importante. É que só reconhecendo Hitler como humano podemos entender como é que ele foi possível e impedir a sua repetição. O filme permite-nos reflectir sobre a natureza do mal. O mal que se manifesta na figura de Hitler mas também o mal muito mais disperso e difuso que permitiu Hitler e o nazismo.
(leia o resto do texto clicando aqui)
sábado, março 26, 2005
O Doutor

O Doutor
por Miguel Poiares Maduro
Por favor, esta semana «escreve algo ligeiro», pediram-me. O problema é que, ultimamente, só me ocorrem ideias «pesadas». Deve ser o peso da responsabilidade, já que a consciência não a tenho pesada. Pensei em aligeirar algo sério mas temia que me chamassem pouco sério. O que se pretendia era algo ligeiro escrito sem ligeireza. Acho que acabei por escrever sobre algo pesado com grande ligeireza.
Somos um país de doutores diz-se. É um equívoco: somos um país de drs. e engenheiros. E está tão vulgarizado que basta entrar num qualquer restaurante desconhecido para obtermos o título: «Sai um bacalhau à Braz para o doutor». Já tenho uns 20 doutoramentos honoris causa concedidos por diferentes restaurantes. Em Portugal, o serviço ao cliente vai ao extremo de nos licenciarem antes de começar a refeição! Mas este dr. não tem doutoramento e a nossa obsessão com títulos é tanta que logo se encontrou uma distinção: quem é doutor por extenso é Professor Doutor, seja ou não professor. E os professores que não são doutores, são apenas «sotores». Substituímos a sociedade de classes pela sociedade de títulos.
Somos «marcados» pelo título. Durante muitos anos em Portugal, ministros só doutores. Um título abre muitas portas em Portugal. Por isso é que não deve parecer (parecer é tudo neste caso) nada fácil obtê-lo. O valor do «título» está no acesso que comporta a um círculo restrito (ser um dos poucos) e na autoridade que comporta («quem fala, fala a título de_»). E nada é mais exemplar a este respeito que o «título» de doutor e a forma como se lhe acede: com uma tese de doutoramento. Eu que sou doutor tenho de saber com certeza.
Em primeiro lugar, a tese de doutoramento deve comprovar a adesão do candidato ao grupo: a sua fidelidade à escola que lhe concede o título. Ao contrário do que afirmam alguns, a tese não tem de constituir uma contribuição original para a ciência. Deve sim consistir numa contribuição original sobre as ideias do orientador da tese (em particular se forem as minhas!). Na medida do possível, o candidato deve abster-se de tomar posição própria, pois tal é sinal de arrogância científica. Pode sim adoptar a posição anteriormente expressa pelo orientador da tese. Se o orientador da tese não tiver posição, o candidato pode adoptar uma posição sui generis. Esta deve congregar elementos de todas as teses anteriores, de tal forma que não possa ser associada a nenhuma nem criticada por se lhes opor. É desejável que o candidato apresente a sua tese (se quiser arriscar ter uma) no meio de 350 outras pretensas teses. Pode ser que, desta forma, a tese passe despercebida.
Em segundo lugar, a tese deve transpirar autoridade científica. Mas esta não resulta das ideias (essas são subjectivas e como tal contestáveis). A autoridade resulta da forma. Desde logo, como ouvi algumas vezes, uma tese deve ter aspecto de tese. Começa com o peso: uns bons cinco quilos são o mínimo aconselhável. Segue-se uma boa organização sistemática. Em Direito, p. e., aconselho a seguinte estrutura: 1) introdução; 2) introdução ao Direito (com referência a elementos de Filosofia, História, Economia e Ciência Política); 3) excurso sobre a importância da definição do objecto da tese; 4) definição do objecto da tese (remissão da sua análise para momento posterior); 5) excurso sobre a importância do instituto jurídico objecto de estudo; 6) introdução ao instituto jurídico estudado; 7) história do instituto jurídico; 8) distinção de todos os institutos jurídicos similares; 9) estudo desses outros institutos; 10) classificação do instituto; 11) categorias e tipos que o compõem; 12) distinção de categorias e tipos similares; 13) distinção entre categorias e tipos (tipos de categorias e categorias de tipos); 14) último capítulo: análise do instituto jurídico em causa (remissão para segundo volume a publicar logo que os nossos trabalhos científicos - leia-se preparação de pareceres - nos permitirem).
Segue-se a linguagem. Deve procurar-se ser o menos claro possível (a clareza é geralmente entendida como um sinal de pouca profundidade intelectual). Ex.: a afirmação «existe, neste caso, um conflito de direitos fundamentais» deve ser substituída por «as jurisdições dos espaços de liberdade normativamente concretizados nas posições jurídicas subjectivas constitucionalmente garantidas estão, neste caso, numa situação de concorrência normativa na prossecução dos objectivos constitucionalmente consagrados».
Particular atenção deve ser dada às notas de rodapé e bibliografia (é por aqui que muitos membros de júris de tese iniciam - e, em muitos casos, terminam - a sua leitura). O texto em notas de rodapé deve exceder o texto do corpo da tese (tal circunstância demonstra que a erudição do candidato excede em muito as fronteiras do tema estudado). Por fim, a bibliografia deve conter todas as obras consultadas (por consulta entende-se a consulta do título em qualquer base de dados existente) e incluir referências a obras nunca antes citadas (de preferência, mas não necessariamente, relacionadas com o tema da tese).
Pouco sério? Apenas uma ligeira provocação para recordar que nem sempre o facto das coisas serem tratadas de forma muito séria é sinal de grande seriedade. O importante não devia ser o título mas a tese. Isto vale para os doutores e outros títulos. Em vez de comparar títulos devemos é trocar ideias.
por Miguel Poiares Maduro
Hora da publicação: 15:50 0 comentários
Etiquetas: burocracia-estatismo, crónicas, Miguel Poiares Maduro
quarta-feira, fevereiro 02, 2005
Reformas por onde e quem começar ?
Reformas por onde e quem começar ?
"A nossa vontade reformista está prisioneira de uma certa 'forma de vida'"
por Miguel Poiares Maduro in DN

Em Portugal estamos todos de acordo são necessárias reformas. Não sei até porque se fala tanto de pactos. Uma vez que todos parecem estar de acordo, não é necessário pactuar nada. Dos senadores aos políticos no activo, dos taxistas aos professores, este país está embalado de uma enorme vontade reformista.
Não esperem reformas no entanto. No que concerne às reformas, somos um pouco como aquele grupo de "acção" que no filme dos Monty Python A Vida de Brian planeava libertar Brian ( "representando" a figura de Cristo)
"- Temos de o libertar.
- Sim, não podemos esperar mais, tem de ser agora.
- É isso mesmo, temos de agir.
- Basta de conversa e vamos libertá-lo.
- Sim, temos de passar das palavras aos actos.
- É isso mesmo, vamos agir."
E assim continuavam infinitamente sem darem um passo e com Brian a apodrecer na cadeia.

Mas se estamos todos de acordo quanto à necessidade de mudar, o que impede a reforma em Portugal? Simples as reformas trazem custos e benefícios e mesmo que os benefícios sejam superiores aos custos, estes tendem a ser concentrados e facilmente perfectíveis pelos seus destinatários, enquanto os benefícios são difusos e dilatados no tempo. Enquanto os custos têm frequentemente uma "identidade" que mobiliza quem os sofre, os benefícios das reformas são anónimos (ou pela sua projecção no futuro ou porque não se sabe quem os virá a merecer). Logo, as reformas mobilizam muito mais facilmente contestação do que apoios.
Há alguns aspectos-chave para entender a dificuldade de um projecto reformista. O primeiro tem a ver com aquilo que um Nobel da Economia (Douglas North) designou de path dependence (dependência histórica). Num sentido amplo, este conceito ilustra como qualquer instituição social fica depen- dente da sua história. Num sentido mais simples, corresponde à nossa conhecida frase de que "as coisas são assim porque sempre assim foram". Esta frase não é apenas produto da preguiça. Pelo contrário, ela reflecte os custos envolvidos em qualquer mudança, mesmo uma mudança para muito melhor. Um exemplo há muito que se sabe que os teclados que usamos não são os melhores para permitir uma escrita mais rápida e saudável. Acontece que os teclados surgiram com as máquinas de escrever mecânicas e que a sua concepção técnica não permitia outro teclado. Hoje, tal seria possível. Só que a nossa dependência do teclado clássico (a que todos estamos historicamente habituados) dissuade qualquer mudança para um teclado mais eficiente.
Estes custos de transição associados a qualquer reforma não são insignificantes. Além disso, eles podem ter um impacto redistributivo capaz de mobilizar enorme oposição. Nalguns casos, essa redistribuição é perfeitamente justa mas não deixa de ser difícil de implementar. Imaginemos que a nossa sociedade deixa de ser organizada de acordo com aquilo que já designei, nestas páginas, de princípio da fidelidade (recompensa pela fidelidade ao grupo, ao chefe, aos amigos) para passar a ser organizada com base no mérito. É obvio que isto iria premiar os melhores e penalizar os piores uma redistribuição justa. Acontece que os piores facilmente compreenderiam os riscos que correm e opor-se-ão. Quanto aos melhores, decorre da própria política de mérito a incerteza quanto aos que por ela serão premiados. Logo, uma reforma deste tipo sofre de uma assimetria clara entre os custos e benefícios de um lado e aqueles que deles têm consciência do outro. Consequência: embora os benefícios sejam superiores aos custos, a contestação será superior aos apoios. Há aqui, igualmente, um primeiro paradoxo: quanto mais profundo seja este problema e a necessidade de reforma, maior será esta assimetria e logo mais difícil a reforma.
Noutros casos, os custos de transição inerentes a uma reforma podem ter um impacto redistributivo negativo que exigiria medidas de compensação que garantissem uma efectiva justiça distributiva. Um exemplo pode ser retirado da globalização e liberalização do comércio. O consenso entre os economistas sobre as vantagens de tal liberalização não é seguramente produto de uma qualquer conspiração entre eles para dominarem o mundo (seria interessante dissertar sobre a razão pela qual a análise económica ganhou uma caracterização marcadamente pejorativa). Independentemente das contrapartidas resultantes da abertura de outros mercados aos nossos produtos e por muito anti-intuitivo que tal pareça, a simples sujeição dos nossos produtos à concorrência externa aumenta potencialmente a nossa riqueza! Imaginemos que em Portugal se produz um certo bem mais caro que noutro Estado com que vamos agora ter de concorrer. A consequência para a nossa economia não se limita ao facto de as empresas portuguesas que produzem esse bem terem de fechar. Há contrapartidas que se traduzem num aumento da riqueza nacional.
Em primeiro lugar, os consumidores portugueses vão pagar menos pelo mesmo (ou melhor) produto, ficando dessa forma com mais dinheiro para consumir ou investir noutros bens. Em segundo lugar, o dinheiro que era utilizado na pro- dução ineficiente daquele produto pode agora ser investido na produção de outros bens ou serviços que, por exemplo, não se baseiem tanto em mão-de-obra barata. A lógica é simples ao comprarmos um bem mais barato ficamos com mais dinheiro para comprar outros bens e investir. O problema é que a passagem de um estado económico ao outro não é inócua. Ela tem custos de transição com potenciais impactos redistributivos significativos: aqueles que perdem o emprego com o fim de uma certa produção não são necessariamente os mesmos que vão ganhar com produtos mais baratos ou empregos em novos sectores de actividade. O paradoxo da liberalização do comércio é que, embora ela seja não apenas inevitável mas, igualmente, desejável (não só pelas vantagens que nos traz mas também para promover um desenvolvimento global mais solidário), ela exige, ao mesmo tempo, um reforço dos instrumentos de justiça distributiva. Embora o País enriqueça, há portugueses que podem empobrecer. Acontece que são precisamente aqueles com menos meios que tendem a ser mais afectados por estes custos de transição. Numa sociedade como a nossa, em que os critérios de justiça distributiva ainda são pouco credíveis, é natural que este tipo de reforma suscite oposição.
Este último exemplo permite perceber o último grande obstáculo às reformas em Portugal um problema de acção colectiva. Por onde (ou por quem) se começa? Muitos aceitam a necessidade de reformas mas todos temem que, começando por eles, tais reformas se transformem apenas numa forma de transferir o seu relativo bem-estar para os outros. Esta é a justificação clássica que qualquer português dá para procurar fugir aos impostos, ao mesmo tempo que contesta a evasão fiscal generalizada. É isto que leva, igualmente, a uma imediata contestação de qualquer primeiro passo, no sentido de reformar algum aspecto do sistema fiscal (porquê começar por mim?). A falta de legitimidade global do sistema fiscal leva a contestar qualquer reforma parcial, da mesma forma que a falta de credibilidade dos nossos instrumentos de justiça distributiva leva a contestar qualquer iniciativa de liberalização económica.
As reformas em Portugal dificilmente se farão de forma endógena. Os portugueses querem reformas mas não estão dispostos a passar por um processo de reforma. Estamos demasiados habituados a certos processos de vida para correr o risco de mudar. Há demasiados interesses constituídos que sabem bem os custos da mudança e poucos são aqueles que têm a percepção dos seus potenciais benefícios. A nossa vontade reformista está prisioneira de "certa forma de vida" e de um problema de acção colectiva.
Só através de estímulos externos é que nos reformámos e penso que assim vai continuar a ser. Integração europeia e globalização vão ser os factores exógenos em que vai assentar a energia reformista. Há dias, Rui Ramos defendia que seria possível promover reformas através do nosso sistema político num contexto de efectiva estabilidade política. Só que, como ele reconhecia, tal pressupõe uma atitude cívica que aceite como legítimas reformas que contestamos. Acontece que, em Portugal, o direito à indignação confunde-se com o direito à revolução a oposição a uma determinada política transforma-se facilmente numa oposição ao regime (com cortes de estradas, etc.).
É neste contexto que se compreendem os apelos ao pacto de regime. Consistiria em retirar certas questões do discurso político corrente instituindo uma forma de autodisciplina de todos os actores políticos e sociais. Pessoalmente, penso que este tipo de autodisciplina tem o seu mecanismo próprio numa sociedade democrática é a Constituição. É nela que podemos e devemos concentrar o nosso esforço na procura de combater as assimetrias democráticas identificadas que impedem projectos de reforma.
Miguel Poiares Maduro
miguel.maduro@curia.eu.int
Hora da publicação: 15:37 0 comentários
Etiquetas: burocracia-estatismo, crónicas, Miguel Poiares Maduro
quarta-feira, dezembro 01, 2004
Cosmopolitas de sofá
Cosmopolitas de sofá
por Miguel Poiares Maduro

Diz-se que Salazar teve um grande amor. Chamava-se Christine Garnier, uma jornalista francesa que veio a Lisboa para entrevistar Salazar e acabou por passar um verão na sua companhia. Ao que parece, Salazar ter-lhe-á depois enviado vários e luxuosos presentes (afinal era capaz de gastar dinheiro…) e mantido uma correspondência romântica que, no entanto, nunca passou do amor platónico. Se calhar o amor à pátria não era compatível com o amor por uma mulher…
Do verão que Christine Garnier passou com Salazar nasceu um livro escrito pela jornalista: "As minhas férias com Salazar". Nesse livro, Garnier conta como ficou surpreendida com o conhecimento e actualização de Salazar quanto ao que se passava no mundo. Aí estava um ditador que não saia de Portugal mas tinha lido tudo, encontrando-se a par dos mais recentes debates intelectuais. Salazar parecia um cosmopolita e, no entanto, todos sabemos que a marca que nos deixou foi de provincianismo. Como é possível que um homem intelectualmente tão informado fosse tão provinciano? Salazar julgava poder conhecer o mundo sem sair da sua famosa cadeira. Era um cosmopolita de sofá.
Salazar queria conhecer o mundo mas sem estar disposto a abraçá-lo. A curiosidade intelectual de Salazar nunca se estendeu aos seus próprios preconceitos e pré-compreensões. Ele conhecia tudo mas não aceitava ser desafiado por nada. Quando o conhecimento tem lugar de forma acrítica ou promove a submissão ou reforça a presunção e arrogância. Em vez de nos desafiar e melhorar torna-se meramente instrumental ao reforço das nossas crenças anteriores. Quer promove o nosso cinismo (partimos para o conhecimento do que é diferente apenas para provar o que tem de mau), quer sustenta a nossa falsa autoridade (levando-nos a presumir que sabemos tudo).
Os verdadeiros cosmopolitas não querem apenas conhecer o mundo, querem interagir com ele. Portugal, ao contrário, tem uma longa tradição de cosmopolitas de sofá. Uma das nossas marcas é precisamente a de unir cosmopolitismo com provincianismo. Isto manifesta-se, no entanto, de duas formas totalmente opostas.
Uma forma de provincianismo cosmopolita exprime-se no fascínio por tudo o que é estrangeiro. Se há algo que boa parte das nossas elites intelectuais e empresariais partilham é a concentração na actividade de importação: uns importam conceitos de negócios, outros importam teorias e ideias. O nosso discurso intelectual parece muitas vezes reduzido ao franchising de ideias (em que os principais fornecedores tanto podem ser o Le Monde como a New Yorker…). A isto junta-se a obsessão com o que os outros pensam de nós. Seja uma equipe de futebol ou um politico não há visita ao estrangeiro que não seja acompanhada por um artigo nos jornais sobre o que eles (os estrangeiros) dizem e pensam de nós. Isto até seria positivo se através da nossa imagem nos outros procurássemos saber algo mais sobre nós. Na verdade, lemos os outros apenas para saber o que julgam de nós… È um pouco como aquele amante que se apaixona não para amar mas apenas para ser amado.
Mas há outra forma, igualmente comum e, no entanto, totalmente oposta, de provincianismo cosmopolita. É a recusa a tudo o que vem de fora. O conhecimento do mundo serve apenas para nos ameaçar. As ideias dos outros valem quando são importadas por nós mas os outros não valem nada. Neste caso a autoridade do cosmopolita de sofá serve apenas para proteger a sua exclusividade: o ser detentor de toda a verdade. Eis o "cosmopolita" Salazar: o conhecimento do mundo apenas servia para lhe dar razão ao "proteger-nos" dele. Neste caso, é como o amante que se apaixona apenas à procura da fidelidade.
O nosso equívoco é pensarmos que somos um país aberto ao mundo só porque somos um país de viajantes. Não basta viajar para interagir com o mundo. Há muita gente que viaja e não sai do seu "sofá". Vicente Verdu dizia que havia dois tipos de viajantes: os que viajam para viajar e os que viajam para ter viajado. Os primeiros querem usufruir dos lugares e da viagem. Os segundos procuram histórias para contar. Mas há um terceiro tipo: os que viajam sem querer sair do seu lugar. Os que chegam ao hotel e ficam no quarto a ver a CNN e a ler o Financial Times. Do tipo daqueles portugueses que vão a uma cidade estrangeira e procuram logo um restaurante português para comer. O simples facto de viajarmos não nos faz estar atentos ao mundo e interagir com ele.
O verdadeiro cosmopolita é aquele que se deixa desafiar pelo mundo. Que aceita confrontar-se com outras realidades e ideias sem as querer imediatamente copiar ou rejeitar. Aquele que quer ser um participante do mundo e não um mero espectador. Alguém que sabe que é confrontando-se com a diferença que constrói a sua verdadeira identidade.
Veja também, do mesmo autor, "Confusão ideológica" sobre a distinção direita/esquerda, publicado nos Textos do DOTeCOMe